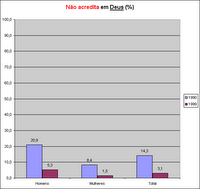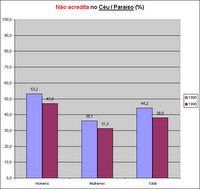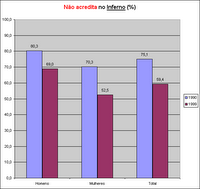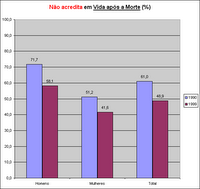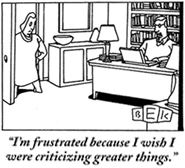Lia-se no
Diário de Notícias de terça-feira passada:
A ministra da Educação traçou ontem um quadro arrasador da falta de orientação das escolas e dos professores para os resultados dos seus alunos. Turnos da manhã reservados a turmas dos melhores alunos e filhos dos funcionários da escola, preocupação quase exclusiva para o cumprimento “burocrático-administrativo” das leis e distribuição das melhores turmas aos melhores professores são alguns dos exemplos apontados por Maria de Lurdes Rodrigues para dizer que a escola tem-se preocupado em dar aulas, mas não com o sucesso educativo dos alunos.
[...]
Quanto ao funcionamento da escola, afirma a ministra, “tudo se cumpre, burocrático [sic] e administrativamente, de forma perfeita” e vem a inspecção “que confirmará a conformidade com as normativas legais”. Mas neste processo, garante, não há uma organização em função dos resultados. Assim como não há na questão dos apoios educativos: “uma vez sinalizada, a criança não sai da sinalização”. Logo, os apoios não ajudam a criança a ultrapassar as dificuldades de aprendizagem e são apenas “um conjunto de práticas ao serviço da sua própria existência”.
Os professores não passaram incólumes pelo discurso da ministra, que considerou ser uma classe com uma cultura profissional (que comparou com os médicos) que não tem como objectivo o sucesso educativo dos alunos. “Não são orientados para os casos mais difíceis. Os melhores professores ficam com os melhores alunos e os docentes com pior estatuto na casa levam com as turmas mais difíceis”, afirmou a ministra, garantindo ainda não haver trabalho em equipa nas escolas. O discurso foi recebido com palmas pouco entusiasmadas da assembleia.
1. Sim, são enormes as diferenças entre a classe médica e a classe dos professores (particularmente os que trabalham para o ME), saindo estes a perder da comparação. Por isso é que a ministra a faz. Como dizia um ex-colega meu, «os professores são uma classe sem classe» (e, diga-se,
ele mesmo era a prova de tão demolidor diagnóstico). A tal não será alheio o facto — há que reconhecê-lo — de, ao contrário dos médicos, uma percentagem considerável dos professores serem-no por recurso.
Em especial na última década ou década e meia, para Medicina vai apenas a elite estudantil — os melhores de entre os que demonstraram capacidade de trabalho, perseverança e focalização num objectivo difícil de alcançar; é, convenhamos, um bom princípio. Contrastantemente, para professor vai muitas vezes quem «não arranjou mais nada» (donde se pode inferir o seu grau de motivação); e se falarmos das áreas de Letras, temos por vezes o refugo do refugo: não só não arranjaram mais nada como, anos antes, acharam por bem «fugir a Matemática».
(Lembro-me que quando a minha irmã — aluna de “5” à infame disciplina-papão — escolheu seguir Humanidades para ser professora de Francês, os colegas lhes perguntavam, num tom próximo do escândalo, «o que fazia ela ali». Deveriam senti-la como uma intrusa, um Bill Gates a jantar na sopa dos pobres...)2. Sim, é também verdade que grande parte dos médicos e enfermeiros têm particular apetência pelos casos mais difíceis. Uma amiga minha, ex-enfermeira, disse-mo por diversas vezes: a chegada de um paciente mais grave ou com um quadro clínico mais raro mobilizava (alguns diriam «atraía») todo o hospital. E todos conhecemos alguém que se queixa de não ter uma doença «suficientemente grave» para que o médico se interesse por ela...
Mas há que reconhecer a grande diferença entre o acto clínico e o acto educativo. Desde logo, regra geral o paciente quer curar-se e está
disposto a muito esforço para consegui-lo. Mesmo que a colaboração do paciente não exista (p. ex., um doente em coma), os fármacos, as terapêuticas e as intervenções cirúrgicas podem ainda assim surtir algum ou mesmo muito efeito. E até um suicida falhado (que supostamente queria morrer) pode ser tratado e curado contra a sua vontade (pelo menos dos males do corpo que se auto-infligiu).
Pelo contrário, é frequente um aluno
não querer aprender, estar pura e simplesmente “a borrifar-se” quanto ao resultado da sua passagem pelos bancos da escola. E não há ensino/aprendizagem sem a colaboração activa e o interesse de quem está (deveria estar) lá para aprender — muito menos com a efectiva oposição, a despudorada recusa do esforço, da concentração, de tudo aquilo que não pareça logo «interessante» e «estimulante» (o que, na visão de alguns — não só alunos — quer dizer «fácil», «imediatista» e «vácuo»).
Não há pedagogia que salve um cérebro “educativamente comatoso” ou “intelectualmente suicida”.Sobre isto, escrevi há quase um ano num outro blogue um
post intitulado
«O valor da Saúde e da Educação», onde se podia ler:
[...] os portugueses resignam-se ao sistema educativo público que têm — pouco exigente, pouco rigoroso, desincentivador de docentes e discentes, fraco em resultados — porque os portugueses não dão valor à educação. À saúde, sim, mas não à educação: de uma ida ao hospital não desejamos apenas a alta — esperamos a cura; já da escola, espera-se apenas a passagem de ano (ou, vá lá, a “ocupação dos tempos livres” da miudagem), não a aprendizagem. Isto prende-se com diferenças no estabelecimento de relações de causalidade: os efeitos de maus cuidados de saúde podem constatar-se (da pior forma) em questão de horas, enquanto que o presente envenenado de um sistema educativo pouco exigente e pouco rigoroso demora uma geração a fazer-se notar [...].
3. Quanto à «preocupação quase exclusiva para o cumprimento “burocrático-administrativo” das leis», a ministra também terá a sua razão. Perde-se mais tempo com isso do que seria desejável, desleixando a qualidade pedagógica das aulas — e ainda mais o rigor e a exigência científica (o que para mim é imensamente mais importante).
Mas pergunto à ministra: se «vem a inspecção “que confirmará a conformidade com as normativas legais”», se a
Inspecção-Geral da Educação diz que «tudo se cumpre, burocrático [
sic] e administrativamente, de forma perfeita», a culpa não será da IGE, que se concentra exclusivamente em questões formais? (Verificar se as actas estão ou não “trancadas” é um dos principais fetiches dos inspectores...) Se as pessoas que trabalham na IGE são mangas-de-alpaca há anos afastados do ensino, escolhidos sabe-se lá com base em que critérios, e não têm capacidade para julgar a qualidade de uma aula (e por isso fogem da sua observação), a culpa é de quem? Tudo o que de bom e mau se passa na Educação é, em última análise, responsabilidade do titular da pasta; com maioria de razão no que diz respeito ao serviço de inspecção da dita. Não se pode
soterrar — atormentar, mesmo — professores e escolas em burocracia e depois acusá-los de se preocuparem demasiado com essa mesma burocracia.
Para finalizar, pergunto: esta comparação que Maria de Lurdes Rodrigues fez entre médicos e professores — sendo as circunstâncias de uns e de outros tão diferentes — dever-se-á ao desconhecimento da realidade médica ou ao desconhecimento da realidade da Educação? No primeiro caso, é apenas lamentável (quem não sabe, faz melhor em ficar calado até se informar); no segundo caso, é muito grave: uma ministra da Educação tem de conhecer as condicionantes com que trabalham os que estão abaixo dela — que mais não fosse, porque muitas dessas condicionantes foram criadas ou mantidas pela acção política da ministra.
Há, claro, uma alternativa: a de a ministra saber que a comparação é falaciosa. Simplesmente, o potencial de convencimento de uma comparação tão arrasadora falou mais alto.
Entre uma ministra ignorante e uma ministra demagógica, a escolha não é fácil.
Etiquetas: Educação
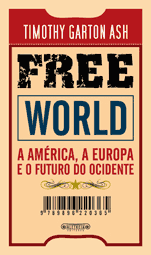 Acabei de ler Free World — A América, a Europa e o futuro do Ocidente (ed. Alêtheia), de Timothy Garton Ash. Segundo a contracapa, Václav Havel descreveu-o como «Um apaixonante manifesto a favor do alargamento da liberdade e de uma nova era na política mundial».
Acabei de ler Free World — A América, a Europa e o futuro do Ocidente (ed. Alêtheia), de Timothy Garton Ash. Segundo a contracapa, Václav Havel descreveu-o como «Um apaixonante manifesto a favor do alargamento da liberdade e de uma nova era na política mundial».