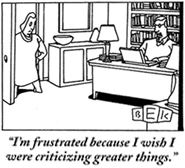Whatever happened to pillow fights?
Whatever happened to jeans so tight, Friday nights?
Whatever happened to Lover’s Lane?
Whatever happened to passion games,
Sunday walks in the pouring rain?
(Derek “Fish” Dick, Punch & Judy)
Foi um processo indefinido, de etapas sucessivas com limites difusos, um acumular de datas das quais poderíamos com alguma honestidade dizer ter sido, cada uma individualmente, a «data fundamental», o «evento-charneira» — e mesmo assim estarmos a mentir, ou a simplificar, ou enganados, ou talvez não, ou não sabermos. Foi um processo em
dégradé, digamos assim — metáfora pictórica, ou cruel e literal descrição de uma detectável tendência do estado das coisas (qual das duas, também não sabemos).
Fiquemo-nos pelo que é certo. Pela cronologia sem referências cronológicas (porque incertas e discutíveis), mero encadear de acontecimentos.
A imperiosidade da proximidade física. Não há distância geográfica que a vida imponha que não seja ultrapassável, não há tempo tão curto que não justifique a deslocação e a canseira (que, de resto, não existe). Hoje vai ele ao Algarve, no fim-de-semana seguinte sobe ela ao Minho; se um feriado calha a meio da semana, dividem o esforço e encontram-se em Lisboa, em Coimbra ou em Óbidos (para variar, pela mais-valia romântica). Com o desespero dos náufragos, contam os dias, as horas, os minutos até poderem estar de novo juntos, sentirem a pele um do outro, encherem os olhos com a visão um do outro, os pulmões com o cheiro mútuo, a língua com o paladar. Porque a vida, de facto, resume-se a isto: à vastidão desolada de um oceano pontuado por esquivos atóis — breves mas intensas horas de proximidade, espaçadas no vazio de uma espera a que só a linha imaginária que lhes liga os telemóveis traz um esboço de alívio.
A factualidade da proximidade física.
Ser, não apenas
estar. Juntos, finalmente. Sem distâncias nem canseiras (que, afinal, vendo bem e retrospectivamente, sempre existiam). O tempo rende, dá para tudo, até para uma escapadinha ocasional a um
hôtel de charme, a Óbidos, Marvão ou outro sítio romântico de boa memória ou que faltou visitar nesses tempos idos das canseiras indetectadas. A proximidade física constante traz a sintonia: vêem o mesmo, falam do mesmo, comentam as mesmas coisas, completam as frases um do outro, têm tiradas em uníssono; não lêem o mesmo, mas é como se o fizessem (partilham as leituras no quase-
continuum espácio-temporal que constitui a sua vida a dois). Pensam o mesmo. Os seus conhecidos dividem-se entre aqueles que se irritam com o «papel químico» que de um gerou o outro (dividindo-se estes, por sua vez, na opinião quanto ao lado que cada um dos dois ocupa face ao papel químico) e aqueles que os admiram e invejam: ele e ela são, dir-se-ia, almas gémeas.
A rotina da proximidade física. Ele e ela: eles. (Tu e eu: nós.) Mós. Uma por cima, outra por baixo. Mecanicamente, à hora marcada, gira uma mó sobre a outra. Ele e ela: eles. (Tu e eu: nós.) Mós. Uma por cima, outra por baixo. Mecanicamente, à hora marcada, porque assim tem de ser, gira uma mó sobre a outra. Ele e ela: eles. (Tu e eu: nós.) Mós. Uma por cima, outra por baixo. Mecanicamente, à hora marcada, porque assim tem de ser, gira uma mó sobre a outra, sempre às voltas. Ele e ela: eles. (Tu e eu: nós.) Mós. Uma por cima, outra por baixo (nem sempre a mesma, que a tanto não chega a rotina). Mecanicamente, à hora marcada, porque assim tem de ser, gira uma mó sobre a outra, sempre às voltas, percurso sem destino, trabalho de Sísifo. Ele e ela: eles. (Tu e eu: nós.) Mós. Uma por cima, outra por baixo... («Ainda aí estás?») E enquanto moem o grão, moem-se as mós uma à outra.
A fuga à proximidade física. Gira uma mó sobre a outra: a rotina, de diária passa a semanal, depois a mensal, depois nem isso — porque já não tem de ser. Porque convém que não seja: os horários de um e de outro são mutuamente incompatíveis (por inflexível decisão superior, como é óbvio), as imperativas deslocações de cariz profissional sucedem-se (uma canseira, é o que é: esta antecipadamente anunciada, não fosse passar despercebida). E o telemóvel — outrora inestimável, ainda que mísero, substituto da proximidade impossível —, de bússola ou radar que os conduzia um ao outro no tempo das canseiras indetectadas, passou a Estado-tampão, a intermediário cuja única virtude é precisamente essa: ficar no meio, possibilitar que entre um e outro haja a distância. «Cheguei», depois «Vou sair», depois «Não vou jantar», depois «Não me esperes acordado», depois «Não contes comigo esta noite», depois «Só vou conseguir voltar no domingo». Cada vez mais palavras, cada vez dizem menos um ao outro. Há coisas assim. Até que as palavras, também elas, cessam: porque para nada dizer, nada é preciso. Simples, não? De Castor e Pólux, de Aquiles e Pátroclo a Jacob e Esaú numa mão-cheia de anos apenas. (Outros Castores, outros Pátroclos?) Não coabitam: são co-proprietários de um apartamento em regime de
time-sharing. Há coisas assim.
A irrelevância da proximidade física. Já não há por que fugir: à força de se evitarem, o Estado-tampão instalou-se-lhes no espírito. Vivem na mesma casa, mas levam existências paralelas, ignorando-se mutuamente sem que para tal seja necessário um esforço, qualquer planeamento ou decisão consciente. É apenas assim. Do
time-sharing ao
room-sharing, com toda a naturalidade dividindo uma cama sem contudo a partilharem (o que mostra bem a limitação semântica dos estrangeirismos anteriores). O metro e sessenta de lençol entre eles multiplicou-se por mil: mais inóspito e desabitado do que a milha de terra-de-ninguém entre dois Estados vizinhos que assinaram um armistício. A paz podre das costas voltadas, o deserto sem o fascínio do deserto, o cordão sanitário de uma quarentena
sine die.
A inexistência da proximidade. Simplifiquemos: a distância. Quem é este? Quem é esta? A pergunta não é feita, sequer pensada, mas é uma maneira de sintetizar um resultado previsível: vivendo como dois estranhos, acabam por efectivamente tornar-se estranhos (e a pergunta, se chegasse a ser feita, não encerraria curiosidade, mas algo entre o espanto e o enfado). Cruzam-se no corredor (ou foi na rua?), encontram-se na sala (ou foi numa praça?), e nada têm a dizer um ao outro; tal como é natural não termos muito a dizer aos milhares de estranhos que connosco se cruzam nas praças, ruas e avenidas, no metro ou no supermercado. Segue cada um a sua vida. E, nos fugazes momentos de contacto entre essas duas vidas independentes — ela que mecanicamente lhe segura a porta ou lhe aponta o telemóvel esquecido a um canto, ele que com igual automatismo a acode numa emergência —, a outra parte responde com a delicadeza (quando não com a surpresa) devida a um transeunte mais solícito que nos ampara após uma queda ou que inesperadamente se oferece para nos ajudar a transportar algo pesado: «Obrigada! Obrigada! Muito obrigada!» «Obrigado! Obrigado! Muito obrigado!» Ou, reverso da medalha — quando o comentário de um deles corta como uma faca afiada o silêncio e invade o espaço sagrado do outro —, com a rispidez reservada aos intrometidos: «Perguntei-te alguma coisa?!...» Depois é como se nada fosse: mais um episódio para o oblívio da (in)civilidade. (As ruas — ou serão as salas e os corredores? — estão cheias de estranhos vagamente simpáticos, ou desprezível mas irrelevantemente metediços, que não temos interesse em conhecer.) Segue cada um a sua vida.
Um dia, um
e-mail. Graças a um servidor existente algures na Califórnia, e tendo passado (qual
boomerang) por
routers em Londres e Lisboa, a mensagem chegou-lhe ao portátil com que trabalhava no quarto — vinda de um outro portátil, pousado sobre umas pernas recostadas na
chaise longue da sala situada no outro extremo da casa, ao fundo do corredor.
Dizia apenas: «Há muito tempo que não escreves nada no teu
blog. Sinto falta.»
Etiquetas: Contos