# O argumento «Ich bin ein Fetus!»
 Uma das estratégias dos opositores à despenalização da interrupção voluntária da gravidez é apresentarem-nos imagens de belos e sorridentes bebés ou crianças de tenra idade, acompanhadas de dizeres como «Eu não fui vítima de aborto» (a versão americana, mais abreviadinha, é «Lucky me!»). Uma variante é lançarem a interrogação, que vi escrita num jornal universitário em 1998, «E se a minha mãe me tivesse abortado?» ou, procurando tocar mais fundo o seu interlocutor, «Gostavas que a tua mãe tivesse abortado quando estava grávida de ti?». Estas perguntas e a apresentação destes bebés e crianças com os respectivos dizeres são falácias, pois pretendem pôr-nos a pensar noutra coisa que não no que realmente está à discussão.
Uma das estratégias dos opositores à despenalização da interrupção voluntária da gravidez é apresentarem-nos imagens de belos e sorridentes bebés ou crianças de tenra idade, acompanhadas de dizeres como «Eu não fui vítima de aborto» (a versão americana, mais abreviadinha, é «Lucky me!»). Uma variante é lançarem a interrogação, que vi escrita num jornal universitário em 1998, «E se a minha mãe me tivesse abortado?» ou, procurando tocar mais fundo o seu interlocutor, «Gostavas que a tua mãe tivesse abortado quando estava grávida de ti?». Estas perguntas e a apresentação destes bebés e crianças com os respectivos dizeres são falácias, pois pretendem pôr-nos a pensar noutra coisa que não no que realmente está à discussão.1. Uma mulher grávida que considera a possibilidade de abortar não está a decidir se um miúdo sorridente de três anos de idade (o «seu filho») merece ou não viver: não está, estalinistamente, a apagar qualquer história ou percurso de vida ou a suprimir qualquer personagem — quem do contrário nos quer convencer está a insinuar na mulher uma culpa que ela não tem. O feto que ela carrega não é, naquele momento, alguém, muito menos alguém com quem ela tenha uma relação especial; é pouco mais do que uma abstracção (uma possibilidade), e se abortar é acabar com uma vida no sentido puramente biológico, não é certamente acabar com uma vida no sentido das relações humanas.
Sejamos verdadeiros: por muito que a versão romântica da maternidade nos tente convencer do contrário, a relação afectiva mãe-filho (e mais ainda, pai-filho) só começa efectivamente após o nascimento, por vezes dias após (está demonstrado que o contacto físico, de pele, tem aí um papel importante). Isto não é coisa que se ouça muito dita por aí, pois a sombra do estigma social da “mãe desnaturada” paira omnipresente, mas algumas mães acabam anos depois por confessar à boca pequena (e apenas a pessoas do seu círculo mais íntimo) que quando viram os seus filhos pela primeira vez sentiram... nada, um horrível nada! Aquele ser que lhe apresentavam era supostamente «sangue do seu sangue» — e elas não sentiam qualquer conexão especial, nada daquilo que vem nos filmes. Para sua desilusão e susto (o estigma, o estigma!...), era um estranho — e só a custo (os familiares à volta da cama do hospital...) iam dizendo, sem o sentirem, que era bonito. Depois, claro, o contacto físico, o calor, o toque, todos os cinco sentidos, a total desprotecção daquele ser que se apresenta — real, concreto — à sua frente, mais o esboço do que virá a ser uma personalidade («conjunto de qualidades que definem a individualidade de uma pessoa») — tudo isso se encarrega de criar o perdurável laço entre mãe e filho.
Daí que seja uma falácia a apresentação das fotografias dos tais petizes «sortudos» que não foram abortados. Colocam-nos perante uma situação diferente (porque com personagens diferentes e biologicamente a posteriori) e tentam convencer-nos de que a decisão de não levar por diante uma gravidez (uma decisão tomada a priori), mais do que impedir que algo como aquilo acontecesse, efectivamente acabou com aquilo; pretendem desencadear em nós um processo de identificação emotiva com a criança «assassinada» (a da foto, não o «Zézinho», que como feto é de mais difícil empatia); pretendem fazer-nos ver na grávida que aborta (que podemos ser nós) uma infanticida e na criança sorridente da fotografia a real vítima desse infanticídio.

2. É também a tentativa de desencadear uma emotiva identificação do interlocutor com o feto que determina as perguntas «Gostavas que a tua mãe tivesse abortado quando estava grávida de ti?» ou «E se a minha mãe me tivesse abortado?». Mas agora com um twist especial: o feto em perigo não é apenas um ser frágil (a “criança”) que nos desperta a compaixão — agora o feto somos nós, é a nossa própria vida que supostamente está ameaçada.
Do ponto de vista filosófico, «Gostavas que a tua mãe tivesse abortado quando estava grávida de ti?» é uma pergunta absurda: um feto (que é isso que é abortado — e não uma criança) não tem gostos nem opiniões; e mesmo que tivesse gostos e opiniões (vamos admitir isso, for argument’s sake), não poderia prestar-nos testemunho quanto à experiência (que só poderia existir a posteriori, pelo que não existiria, de facto); e mesmo admitindo uma outra existência para lá desta — bem, nada nos garante que essa não será melhor do que a que (hipoteticamente) teria «do lado de cá» (ou melhor, a sabedoria popular garante-nos que se parte «desta para melhor»), mas de qualquer maneira o ex-feto-testemunha não teria termo de comparação.
3. A pergunta «E se a minha mãe me tivesse abortado?» não é melhor (é igualmente absurda), mas pelo menos tem uma resposta: Se a minha mãe me tivesse abortado, eu não estaria aqui a perguntar-me o que teria acontecido na situação contrária.
 Esta seria aparentemente uma questão que me tocaria uma corda sensível: terceiro filho, assumidamente o resultado de uma gravidez não planeada (vim destruir a simetria perfeita do «casalinho» que a sociedade erigiu como ambição máxima dos progenitores — até ser destronada pela realidade do mercado imobiliário), reuno em mim todas as condições para me poder considerar um dos «sortudos» que escapou por pouco à versão abortiva da espada de Dâmocles. Mas é uma falsa questão: se há alguma coisa pela qual devo estar agradecido aos meus pais (e há), é por se terem esforçado por me dar a melhor vida (extra-uterina) que lhes foi possível providenciar — não por me gerarem (ainda que inadvertidamente), não por decidirem manter essa gravidez, não por me «darem a vida» no sentido biológico do termo. Ao contrário do que dizem alguns cartazes, os fetos não pedem para nascer.* (Em todo o rigor, nesses cartazes do “Não” quem pede para nascer não são fetos, mas uma vez mais bebés — que já nasceram, pelo que não têm de o pedir — e, estranho: apelam sorridentes e não desesperados, como seria de esperar.)
Esta seria aparentemente uma questão que me tocaria uma corda sensível: terceiro filho, assumidamente o resultado de uma gravidez não planeada (vim destruir a simetria perfeita do «casalinho» que a sociedade erigiu como ambição máxima dos progenitores — até ser destronada pela realidade do mercado imobiliário), reuno em mim todas as condições para me poder considerar um dos «sortudos» que escapou por pouco à versão abortiva da espada de Dâmocles. Mas é uma falsa questão: se há alguma coisa pela qual devo estar agradecido aos meus pais (e há), é por se terem esforçado por me dar a melhor vida (extra-uterina) que lhes foi possível providenciar — não por me gerarem (ainda que inadvertidamente), não por decidirem manter essa gravidez, não por me «darem a vida» no sentido biológico do termo. Ao contrário do que dizem alguns cartazes, os fetos não pedem para nascer.* (Em todo o rigor, nesses cartazes do “Não” quem pede para nascer não são fetos, mas uma vez mais bebés — que já nasceram, pelo que não têm de o pedir — e, estranho: apelam sorridentes e não desesperados, como seria de esperar.) Se a minha mãe me tivesse abortado, a minha vida não seria nem pior nem melhor, porque não seria de todo. O nada não tem nostalgia do ser — só o ser pode ter nostalgia do nada (mas uma nostalgia falsa, claro, porque o desconhece). Se me permitem um cruzamento entre La Palice e a Floribella, o nada não tem nada e, não tendo tudo, também não lhe falta nada. O nada é nada.
Se a minha mãe me tivesse abortado, a minha vida não seria nem pior nem melhor, porque não seria de todo. O nada não tem nostalgia do ser — só o ser pode ter nostalgia do nada (mas uma nostalgia falsa, claro, porque o desconhece). Se me permitem um cruzamento entre La Palice e a Floribella, o nada não tem nada e, não tendo tudo, também não lhe falta nada. O nada é nada.* (Adenda: aparentemente, não só pedem como o fazem por escrito, e mesmo após terem sido abortados ainda têm capacidade para lavrar o seu protesto. Pormenores neste post sobre a falta de decência de alguns apoiantes do Não.)
4. Voltando ao ponto de partida, as imagens dos sorridentes meninos «sortudos» que não foram «vítimas de aborto», os apelos dos bebés que pedem que os «deixemos nascer», as perguntas do tipo «Gostavas que a tua mãe tivesse abortado quando estava grávida de ti?», tudo isso são falácias — porque são absurdas; porque insinuam na mulher uma culpa que ela não tem; porque a nossa vida não é uma daquelas histórias com dois finais alternativos, em que podemos sempre quebrar as regras do jogo, compará-las e optar pela que mais nos agradar (e os do Não supostamente defendem a melhor versão); porque é uma manipulação grosseira que tenta desviar a nossa atenção do que realmente está em jogo: a criminalização ou não da mulher que aborta.
Esta espécie de argumento «Ich bin ein Fetus» não apenas tenta induzir em nós uma despropositada identificação com o feto — trata-nos igualmente como se tivéssemos a actividade cerebral de um.
Etiquetas: Aborto, Eleições e Referendos


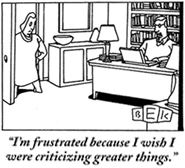


<< Página principal